A Imersão de Recém-Nascidos em Água Fria: Um ritual religioso germânico pré-cristão transmitido por autores gregos?
Dentro da religião cristã, o
batismo tem uma função importante para o fiel e para a própria religião.
Portanto, muitas pessoas acabam perguntando se existe alguma coisa parecida
quando tratamos, não só da religiosidade germânica, mas de outras religiões
pré-cristãs. Tendo isso em vista, vamos analisar a ideia, buscando encontrar
uma resposta para esse questionamento.
O costume de mergulhar
recém-nascidos em água fria entre povos germânicos é mencionado por dois
autores gregos: Galeno de Pérgamo e Sorano de Éfeso. A partir dessas
referências, pesquisadores modernos levantaram a hipótese de um antigo ritual
de consagração pela água, denominado Wasserweihe (“consagração aquática”), que
teria precedido o batismo cristão e, ao mesmo tempo, conferido ao infante um
estatuto jurídico e social.
Essa hipótese, interessantíssima,
coloca em diálogo três níveis distintos de tradição: o testemunho clássico
greco-romano, a reelaboração literária nórdica e a recepção moderna por
filólogos e historiadores das religiões germânicas. O objetivo desta análise é
reconstituir criticamente o debate, seguindo a estrutura e as fontes
apresentadas por Sabine Heidi Walther (2021), mas também avaliar o alcance
interpretativo das fontes.
Walther recorda que Konrad Maurer
foi quem sistematizou o tema no século XIX em sua monografia Wasserweihe
(1881). Ele combinava dois elementos principais: (a) a observação, derivada de
códigos legais medievais, de que o direito à herança dependia do batismo; e (b)
a suposição de um costume pagão de “consagração pela água”, após o qual o pai
já não poderia abandonar o bebê (Walther, 2021, p. 632).
É possível observar que esse
raciocínio reflete uma lógica historicista típica do século XIX: a busca de
origens pré-cristãs para instituições jurídicas cristianizadas. O gesto de
aspergir água seria, para Maurer, a marca liminar que separava o não-ser social
do ser-pessoa.
Jacob Grimm, em seu Deutsche
Rechtsalterthümer (1854, p. 457), já havia citado uma passagem de saga:
“…era considerado assassinato abandonar uma criança depois de ela ter sido aspergida com água (vatni ausin).”
Essa evidência levou Maurer a
tratar o ritual como um ato jurídico-religioso, uma fronteira entre a natureza
e a cultura.
Walther recorda ainda que Anders
Hultgård propôs distinguir entre o rito pré-cristão ausa vatni e o batismo
cristão skíra. Ele chegou a sugerir que o primeiro funcionava quase como um terminus
technicus para um rito não cristão. Para Hultgård, embora não existam
descrições completas da cerimônia, seu significado seria o de um “rito de
purificação” ou um rito de passagem.
De Vries, por sua vez, considerou
o ausa vatni uma espécie de “batismo pagão” (heidnische Taufe). Já Maurer via
nele um rito genuinamente pré-cristão, ainda que inspirado no batismo. Rudolf
Simek, segundo Hultgård, preferiu interpretá-lo como uma projeção retrospectiva
feita por autores cristãos de sagas; ou seja, um artifício literário, não uma
prática real.
Veja que essa divergência é
central: De Vries e Maurer acreditam na realidade histórica do rito; Simek e
Walther tendem a vê-lo como construção narrativa. O debate, portanto, não é
apenas religioso, mas epistemológico[1].
Discute-se o estatuto mesmo da evidência filológica.
Se o ritual de fato existiu, ele
poderia depender do batismo cristão por aculturação ou ter se desenvolvido
antes do contato com o cristianismo. Hultgård, ainda que reconheça a falta de
provas definitivas, inclina-se pela segunda hipótese. Ele baseia-se em dois
argumentos: a forma do gesto (“derramar ou aspergir água”) e a própria
terminologia, que parecem indicar um rito independente; e certas passagens
poéticas que reforçariam essa leitura.
Nesse ponto, é interessante
observar como o vocabulário (ausa vatni, skíra, døpa) carrega camadas
semânticas distintas. Hultgård observa que ausa vatni (“aspergir com água”) era
usado para um ritual pagão, enquanto skíra e døpa designavam o batismo cristão.
O islandês dypa/deyfa vem do inglês antigo dyppan e do alto-alemão antigo
toufen (“mergulhar”). Assim, ausa vatni corresponderia à aspersio, e skíra à
immersio ou submersio.
Essa distinção é relevante porque
antecipa, de certo modo, as controvérsias teológicas medievais sobre a forma
válida do batismo: imersão ou aspersão. O fato de autores islandeses cristãos
preferirem ausa vatni para descrever antepassados pagãos talvez indique apenas
uma escolha estilística, e não a lembrança de um rito autêntico.
O uso de ausa vatni nas fontes nórdicas
Quando analisamos as ocorrências de ausa vatni na literatura
islandesa medieval, percebemos que elas se concentram em contextos de nomeação
de crianças, nunca com menção explícita a um caráter pagão. O termo aparece
quase sempre de modo formulaico, o que indica tradição literária, não rito
religioso.
Por exemplo, há três passagens paradigmáticas preservadas no Dictionary
of Old Norse Prose:
Óláfs saga Tryggvasonar:
konungr ios suein þaɴ uatni ok gaf nafn ok kallaði Knut af knuti þeim er barnit hafði með ser.
“O rei aspergiu a criança com água, deu-lhe um nome e chamou-a Knut, em homenagem ao nó que a havia prendido a ele.”Eyrbyggja saga:
fœddi Þóra sveinbarn, ok var Grímr nefndr, er vatni var ausinn.
“Þóra deu à luz um menino, e ele foi chamado Grímr, depois de ter sido aspergido com água.”Heimskringla:
Eirikr ok Gunnhildr áttu son, er Haraldr konungr jós vatni ok gaf nafn sitt.
“Eirikr e Gunnhildr tiveram um filho; o rei Haraldr aspergiu-o com água e deu-lhe o próprio nome.”
Essas passagens ilustram que o ato de aspergir água se associa
invariavelmente ao dar nome, um gesto social de acolhimento, e não à
iniciação religiosa. Quando analisamos estes trechos e ainda, sendo as sagas
compostas por escritores cristãos que procuravam inserir seus antepassados em
uma genealogia cristianizada, o emprego de ausa vatni pode representar
mais um artifício literário do que memória de um rito autônomo.
Walther destaca ainda que o verbo skíra (“batizar”) já era o
termo comum nas fontes islandesas desde os primeiros manuscritos (c. 1150).
Portanto, utilizar ausa vatni para tempos pagãos e skíra para
cristãos pode simplesmente expressar o contraste entre passado e presente. Esse
paralelismo retórico é típico de sociedades recém-cristianizadas: há
necessidade de diferenciar o “antes” e o “depois” sem negar completamente a
continuidade cultural[2].
O testemunho dos poemas eddicos
Passamos agora a analisar duas fontes poéticas que Hultgård considerava
fundamentais: o Hávamál (estrofe 158) e a Rígsþula. No Hávamál,
a expressão verpa vatni á (“lançar água sobre”) aparece na seguinte
estrofe:
Hávamál 158
Þat kann ek þrettánda,
ef ek skal þegn ungan
verpa vatni á,
munat hann falla,
þótt hann í fólk komi,
hnígra sá halr fyr hjǫrum.“Eu sei o décimo terceiro canto:
se eu lançar água sobre um jovem guerreiro,
ele não cairá,
mesmo que vá à batalha;
ele não tombará sob as espadas.”
É possível imaginar que o contexto aqui é apotropaico, isto é,
trata-se de um encantamento de proteção. O sujeito do rito é um jovem adulto,
não um bebê, e o propósito é preservar-lhe a vida no combate. O gesto à aspersão de água benta usada nas
liturgias cristãs pode ser comparado ao anterior:
Asperges me hyssopo et mundabor; lavabis me et super nivem dealbabor
(“Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais branco do que a neve” — Salmo 51:7).
O Hávamál 158 não descreve um batismo ou consagração, mas um rito
de bênção e purificação. O paralelismo com o asperges me latino
demonstra que o simbolismo da água atravessa religiões distintas, sem se
restringir a um único contexto teológico.
Além disso, a datação do Hávamál é incerta — De Vries o
considerava do século X, mas o único manuscrito completo é o Codex Regius
(c. 1270). Assim, qualquer uso da passagem como “prova” de um ritual pagão
seria especulativo. Essa prudência é metodologicamente correta: interpretar
textos transmitidos por copistas cristãos exige consciência de que a
transmissão é sempre já uma leitura.
Já a Rígsþula menciona ausa vatni três vezes, sempre no
mesmo contexto: um recém-nascido é aspergido com água enquanto recebe um nome.
Walther (2021, p. 636) enfatiza que o poema é preservado no Codex Wormianus
(c. 1350), e todas as cópias posteriores dependem dele. Isso confirma que se
trata de uma fonte cristã tardia, não um testemunho direto de práticas
pagãs.
Tudo isso acaba fazendo com que essa constatação desmonte a base empírica da hipótese de Maurer. Se as únicas ocorrências documentadas provêm de textos redigidos séculos depois da cristianização, o rito pagão torna-se uma construção retrospectiva — uma espécie de “memória inventada” destinada a preencher lacunas entre o mito e a liturgia.
Ao sintetizar essas evidências, conclui-se que ausa vatni nas
sagas e na Rígsþula refere-se a batismo e nomeação, não a um
ritual pagão. “Temos escritores cristãos escrevendo sobre seus ancestrais, e
nada nas fontes comprova a existência de um ritual pré-cristão” (Walther, 2021,
p. 636). Para mim, isso mostra como a fronteira entre religião e literatura é
porosa: o gesto simbólico da água funciona como marcador de identidade
cultural, não como vestígio etnográfico.
As fontes gregas: Galeno e Sorano
Depois de examinar as fontes nórdicas, voltemos às fontes clássicas
gregas, muito anteriores às sagas islandesas. É nelas que se encontram os
primeiros testemunhos do costume de mergulhar recém-nascidos em água fria,
especialmente em Galeno de Pérgamo (129 – c. 216 d.C.) e Sorano de
Éfeso (ativo por volta de 100 d.C.).
A leitura comparada desses dois médicos é fundamental, pois Galeno
depende explicitamente de Sorano, ampliando sua descrição com interpretações
morais e fisiológicas. Estes trechos a seguir buscam confirmar como o gesto de
“banhar o recém-nascido em água fria” foi, na Antiguidade, compreendido no
campo da medicina e da higiene, não no da religião.
Galeno de Pérgamo: higiene e prova de resistência
Em sua obra Ὑγιεινά (De sanitate tuenda), Galeno discute a
criação das crianças e o valor dos banhos para a saúde. No capítulo I.10 ele
escreve:
Texto original (gr.)
παρὰ μὲν γε τοῖς Γερμανοῖς οὐ καλῶς τρέφεται τὰ παιδία·
τίς γὰρ ἂν ὑπομείνειε τῶν παρ’ ἡμῖν ἀνθρώπων εὐθὺς ἅμα τῷ γεννηθῆναι τὸ βρέφος ἔτι θερμὸν ἐπὶ τὰ τῶν ποταμῶν φέρειν ῥεύματα, κἀνταῦθα, καθάπερ φασὶ τοὺς Γερμανούς, ἅμα τε πεῖραν αὐτοῦ ποιεῖσθαι τῆς φύσεως ἅμα τε κρατύνειν τὰ σώματα, βάπτοντας εἰς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ὥσπερ τὸν διάπυρον σίδηρον;Tradução:
“Entre os Germanos, as crianças não são bem cuidadas. Pois quem, entre nós, suportaria levar o recém-nascido, ainda quente do parto, às correntes dos rios e ali — como dizem que fazem os Germanos — testá-lo em sua natureza e fortalecer-lhe o corpo, mergulhando-o na água fria como ferro incandescente?”
O contraste civilizatório que Galeno estabelece é intrigante: “nós”, os
gregos racionais, versus “eles”, os bárbaros. O médico equipara o costume a um
tratamento de choque térmico, útil talvez para o ferro, mas cruel para um ser
humano. Vale acrescentar que Galeno emprega o verbo βαπτεῖν
(“mergulhar”), de onde viria baptizein. Contudo, aqui o termo é puramente físico,
sem conotação ritual.
Em seguida, Galeno explicita a lógica médica:
Texto original (gr.)
ὅτι μὲν γάρ, ἐὰν ὑπομείνῃ τε καὶ μὴ βλαβῇ, καὶ τὴν ἐκ τῆς οἰκείας φύσεως ἐπεδείξατο ῥώμην καὶ τὴν ἐκ τῆς πρὸς τὸ ψυχρὸν ὁμιλίας ἐπεκτήσατο· ὅτι δ’, εἰ νικηθείη πρὸς τῆς ἔξωθεν ψύξεως ἡ ἔμφυτος αὐτοῦ θερμότης, ἀναγκαῖον αὐτίκα τεθνάναι.Tradução:
“Se o bebê resiste e não sofre dano, demonstra a força de sua natureza e adquire resistência pelo contato com o frio; mas, se o frio externo vence seu calor inato, é inevitável que morra imediatamente.”
Walther observa que o raciocínio segue a teoria hipocrática dos
quatro humores: a saúde depende do equilíbrio entre o quente e o frio. O
mergulho seria um experimento sobre essa natureza (πεῖραν τῆς φύσεως ποιεῖσθαι),
não uma consagração espiritual. É possível perceber que Galeno transforma o
gesto em teste fisiológico: a criança “aprovada” é forte; a “reprovada”
morre. Trata-se de eugenia empírica, não de ritual religioso.
Ele conclui ironizando:
Texto original (gr.)
τίς οὖν ἂν ἕλοιτο νοῦν ἔχων ἐν ᾗ θάνατός ἐστιν ἡ ἀποτυχία; ὄνῳ μὲν γὰρ ἴσως ἀγαθὸν ἂν εἴη· ἀνθρώπῳ δέ, λογικῷ ζῴῳ, οὔ.Tradução:
“Quem, em plena razão, escolheria uma prova em que o fracasso é a morte? Talvez seja bom para um asno, mas não para um ser humano racional.”
Esse sarcasmo mostra o tom moralizante do texto: Galeno não descreve um
rito, mas condena um costume bárbaro. Como nota Walther (2021, p. 637), “a
passagem é etnográfica e ética, não religiosa”.
Sorano de Éfeso: higiene e eugenia
Cerca de uma geração antes de Galeno, Sorano de Éfeso, em Περὶ
γυναικείων παθῶν (De morbis mulierum), tratara do mesmo assunto. Ele
escreve:
Texto original (gr.)
Μετὰ δὲ τὴν ὀμφαλοτομίαν οἱ πολλοὶ τῶν βαρβάρων, ὡς οἱ Γερμανοὶ καὶ Σκύθαι, τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων, εἰς ψυχρὸν ὕδωρ καθιᾶσι τὸ βρέφος στερεοποιήσεως χάριν· τὸ δὲ μὴ φέρον τὴν ψύξιν, ἀλλὰ πελιούμενον ἢ σπώμενον, ὡς οὐκ ἄξιον ἐκτροφῆς ὂν, ἀπολέσθαι.Tradução:
“Depois de cortar o cordão umbilical, a maioria dos bárbaros — como os Germanos e os Citas — e até mesmo alguns gregos, colocam o recém-nascido em água fria para fortalecê-lo e deixam morrer, como indigno de criação, aquele que não suporta o frio e se torna lívido ou convulsivo.”
Sorano apresenta o costume como prova seletiva, uma forma
primitiva de eugenia: o bebê que resiste merece viver; o que sucumbe é
descartado. O autor critica essa prática como típica dos bárbaros e enumera
outras igualmente condenáveis — lavar o bebê em vinho, urina ou decocção de
mirto.
Sorano inaugura uma tradição descritiva na qual o ato de mergulhar o
recém-nascido se torna sinônimo de crueldade bárbara. Quando Galeno
retoma o exemplo, ele o veste de aparato teórico, mas mantém a intenção
moralizante. Portanto, ambos falam de higiene e de educação física; nenhum
menciona sacralidade.
Walther conclui que as fontes gregas não comprovam qualquer “ritual
de consagração”, mas apenas um costume de prova física. E acrescenta que “o
paralelo com o ausa vatni das sagas é meramente superficial: um
compartilha a água como elemento, não a função simbólica” (Walther, 2021, p.
639).A coincidência lexical (baptizein, ausa vatni) não implica
continuidade ritual; trata-se de uma analogia semântica.
Paralelos clássicos: Aristóteles, Virgílio, Plutarco e Xenofonte
A ideia de “banhar o recém-nascido em água fria” não nasceu com os
germânicos, mas pertence a um topos pedagógico e médico da
Antiguidade. O gesto simbolizava o endurecimento corporal e a educação
da natureza.
Aristóteles – Educação e fortaleza
No livro VII da Política (1336a), Aristóteles (384-322 a.C.)
afirma:
Texto original (gr.)
Γενομένων δὲ τῶν τέκνων οἴεσθαι δεῖ μεγάλην εἶναι διαφορὰν πρὸς τὴν τῶν σωμάτων δύναμιν τὴν τροφήν· διὸ παρὰ πολλοῖς ἐστὶ τῶν βαρβάρων ἔθος τοῖς μὲν εἰς ποταμὸν ἀποβάπτειν τὰ γιγνόμενα ψυχρόν, τοῖς δὲ σκέπασμα μικρὸν ἀμπίσχειν, οἷον Κελτοῖς.Tradução:
“Quando as crianças nascem, deve-se reconhecer que o modo de criá-las exerce grande influência sobre a força do corpo. Por isso, entre muitos povos bárbaros é costume mergulhar os recém-nascidos em um rio frio, e entre outros — como os Celtas — envolvê-los apenas com pouca roupa.”
Aristóteles cita o costume entre povos bárbaros, especialmente os
celtas, como exemplo de prática saudável: o contraste térmico
fortaleceria o corpo. Não há reprovação moral, mas aprovação pedagógica. O
gesto é apresentado como exercício de temperança e não como rito de exclusão.
Virgílio – O símbolo da dureza
Quatro séculos depois, Virgílio reutiliza o motivo na Eneida
(IX 601-604). O guerreiro itálico Numano se gaba diante de Ascânio, filho de
Eneias:
Texto original (lat.)
durum a stirpe genus, natos ad flumina primum
deferimus saevoque gelu duramus et undis.Tradução:
“De raça dura somos: nossos filhos recém-nascidos
levamos primeiro ao rio e os endurecemos com o frio e as ondas.”
Walther (2021, p. 640) interpreta esses versos como topos literário[3]
de virilidade. O banho gelado aparece como metáfora de bravura militar, não
como prática etnográfica. Em Virgílio, o gesto é retórico, uma hipérbole
nacionalista. Ainda assim, o paralelo semântico com Aristóteles revela a
permanência simbólica da água fria como meio de formação do caráter.
Plutarco – Esparta e o banho em vinho
Plutarco, em Vida de
Licurgo (16, 2), descreve dois costumes espartanos: a inspeção dos
recém-nascidos e o banho em vinho como teste de resistência.
Texto original (lat.)
matres infantes vino lavant, ut aegros statim detegant.Tradução:
“As mães lavam os recém-nascidos em vinho, para descobrir imediatamente os fracos.”
Walther lembra que o vinho substitui a água, mas a lógica é a mesma:
prova física, não ritual sagrado. Esse exemplo reforça a dimensão cívica e
militar do gesto: em Esparta, o corpo pertencia à pólis, e o banho, seja em
vinho ou em água, servia como triagem da força.
Xenofonte – Ascese física
Xenofonte, em Constituição
dos Lacedemônios (II 4), descreve a disciplina dos meninos espartanos:
Texto original (gr.)
οὐδὲν ἦν αὐτοῖς ἄλλο πλὴν ἐσθῆτος ἑνὸς ἐνιαυτοῦ, καὶ κοιμῶνται ἐπὶ καλάμης.Tradução:
“Nada lhes era permitido além de uma única roupa por ano, e dormiam sobre palha.”
É possível associar esse testemunho ao mesmo campo semântico de ascese
e resistência: a criança é moldada pela exposição ao desconforto. Está aí culminância
do ideal helênico de formação (paideía): o banho frio é um entre muitos
exercícios de domínio do corpo.
Síntese crítica
Reunindo Aristóteles, Virgílio, Plutarco e Xenofonte, conseguimos
perceber que todos compartilham um mesmo motivo: o banho frio como metáfora
da disciplina corporal. Nenhum autor sugere um conteúdo sagrado; todos
tratam do gesto como prática higiênica ou moral. “O motivo antecede em séculos
o cristianismo e pertence ao repertório da cultura clássica” (Walther, 2021, p.
641).
Com tudo isso em vista, fica mais fácil evidenciar que o suposto “ritual
germânico de consagração” é, na verdade, uma transposição posterior de
um tema pedagógico antigo. O mergulho na água gelada é símbolo de coragem e de
adaptação ao meio, não de redenção espiritual.
O “julgamento da água” no Reno
Walther (2021, p. 640–641) encerra seu estudo examinando a relação entre
o costume descrito por Galeno e Sorano e um tema posterior das fontes tardias:
o “julgamento da água” (ordeal) associado ao rio Reno.
Nos séculos IV e V, autores latinos e gregos relataram que o Reno
possuía a capacidade de distinguir crianças legítimas das ilegítimas,
“aceitando” umas e “afogando” outras. O imperador Juliano, em seu Oratio
II (25, 81d–82a), menciona esse mito, e ele reaparece em um epigrama da Anthologia
Palatina (9.125) e no Paradoxographus Vaticanus, que o atribui não
aos Celtas, mas aos Germanoi.
Texto original (lat.)
Rhenus pueros legitimos servat, illegitimos absorbet.Tradução:
“O Reno preserva as crianças legítimas e afoga as ilegítimas.”
Andreas Hofeneder e Mario Lentano comentam que esse “teste do Reno” não passa de mito
literário. Trata-se de um desenvolvimento tardio do mesmo motivo
aristotélico do mergulho, reinterpretado como ordália: uma prova de pureza
moral substitui a antiga prova de resistência física.
Vejo aqui um ponto crucial da análise de Walther: a persistência
simbólica da água fria como meio de provação. O conceito em estudo (a imagem)
sobreviveu e se transformou de um contexto científico/corporal para um contexto
espiritual não por causa de evidências históricas concretas sobre o
cotidiano das pessoas (etnografia direta), mas sim por causa do poder
das histórias, da ficção e da retórica (camadas literárias) que
continuamente recontaram e adaptaram a ideia original.
Conclusão geral
A leitura combinada das fontes gregas, latinas e nórdicas permite,
segundo Walther (2021), descartar a existência de um ritual germânico de
“imersão consagratória”. O que há são interpretações sucessivas de um mesmo
topos antigo, recontextualizado por diferentes tradições.
1. Em Aristóteles, o mergulho é exercício pedagógico.
2. Em Virgílio, é metáfora heroica.
3. Em Plutarco e Xenofonte, é método de seleção cívica.
4. Em Sorano e Galeno, torna-se prática médica e eugênica.
5. Nos autores medievais nórdicos, é lembrança literária usada para nomeação.
6. Nos autores tardo-antigos, converte-se em julgamento moral.
Como a própria Walther conclui:
“Nenhuma das fontes — gregas, latinas ou nórdicas — apresenta evidência
de um rite de passage sagrado anterior ao cristianismo. O motivo da
imersão é físico e ético, não teológico” (Walther, 2021, p. 641).
A “imersão do recém-nascido” nunca foi um rito germânico isolado, mas
parte de uma tradição mediterrânea de pedagogia do corpo. O gesto de
mergulhar em água fria exprime a tensão entre vida e morte, razão e instinto, e
é precisamente essa tensão que o cristianismo depois espiritualizou.
O diálogo entre as fontes clássicas e nórdicas revela uma mesma
preocupação civilizatória: como transformar o nascimento biológico em
pertencimento cultural. A água, nesse sentido, é o meio de passagem entre o
“indivíduo” e o “membro da comunidade”.
O estudo não apenas corrige um equívoco historiográfico — o de projetar
rituais cristãos sobre o paganismo —, mas também ilumina a longevidade dos
símbolos aquáticos na imaginação europeia.
Referências – Fontes Primárias
ARISTOTLE. Politics. Edited by Harris Rackham. Reprinted. Loeb
Classical Library, 264. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.
GALEN.
Hygiene. Edited by Ian Johnston. 2 vols. Loeb Classical Library,
535–536. New edition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.
HARÐAR SAGA.
Edited by Sture Hast. Copenhagen: Munksgaard, 1960.
HIPPOCRATES.
Hippocrates. Vol. 1. Edited and translated by W. H. S. Jones. Loeb
Classical Library, 147. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.
PLUTARCHUS.
Theseus and Romulus. Lycurgus and Numa. Solon and Publicola. Edited and
translated by Bernadotte Perrin. Loeb Classical Library, 46. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2005.
SORANUS OF EPHESUS. Sorani Gynaeciorum libri IV, De signis fracturarum, De fasciis, Vita
Hippocratis secundum Soranum. Edited by Johannes Ilberg. Corpus Medicorum
Graecorum, 4. Leipzig: Teubner, 1927.
SORANUS OF EPHESUS.
Soranus’ Gynecology. Translated by Owsei Temkin, with the assistance of
Nicholson J. Eastman, Ludwig Edelstein, and Alan F. Guttmacher. Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1991.
VIRGIL.
Aeneid: Books 7–12. Appendix Vergiliana. Translated by H. Rushton
Fairclough; revised by G. P. Goold. Revised edition. Loeb Classical Library,
64. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
XENOPHON.
Hiero. Agesilaus. Constitution of the Lacedaemonians. Ways and Means.
Cavalry Commander. Art of Horsemanship. On Hunting. Constitution of the
Athenians. Edited and translated by Edgar C. Marchant. Loeb Classical Library, 183. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2000.
Referências – Fontes Secundárias
BÍBLIA 21. aldar – 2007. Biblían. Heilög ritning. Gamla testamentið ásamt apókrýfu bókunum.
Nýja testamentið. Hið íslenska biblíufélag. JPV útgáfa, 2017. Disponível
em: https://biblian.is/biblian/. Acesso em: 18 jul. 2020.
CIRILLI, René. Le jugement du Rhin et la légitimation des enfants par Ordalle. Bulletins
et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, v. 3, n. 1, p. 80–88,
1912. DOI: 10.3406/bmsap.1912.8499.
DICTIONARY OF OLD
NORSE PROSE. Edited by Aldís Sigurðardóttir et al. Copenhagen: University of Copenhagen.
Disponível em: https://onp.ku.dk/onp/onp.php. Acesso em: 18 jul. 2020.
EDDUKVÆÐI.
Edited by Jónas Kristjánsson and Vésteinn Ólason. Reykjavík: Híð Íslenzka
Fornritafélag, 2014.
GRIMM, Jacob.
Deutsche Rechtsalterthümer. 2. ed. Göttingen: Dieterich, 1854.
GUÐBRANDUR ÞORLÁKSSON
et al. Biblía það er öll heilög ritning. Hólar: Hólaprent, 1584. Disponível em: https://biblian.is/gudbrandsbiblia/. Acesso em: 18 jul. 2020.
HOFENEDER, Andreas.
Die Religion der Kelten in den antiken literarischen Zeugnissen: Sammlung,
Übersetzung und Kommentierung. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission.
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse,
Bd. 59, 66, 75. Vienna: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005–2011.
HULTGÅRD, Anders.
Wasserweihe. In: Germanische Altertumskunde Online. Berlin: de Gruyter, 2010 (= Reallexikon
der Germanischen Altertumskunde, Band 33, 2006). Disponível em: https://www.degruyter.com/view/GAO/RGA_6376?rskey=HNOogf. Acesso em: 18 jul. 2020.
JOHANSSON, Karl G.
Rígsþula och Codex Wormianus: Textens funktion ur ett kompilationsperspektiv. Alvíssmál,
n. 8, p. 67–84, 1998.
KLUGE, Friedrich.
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23. ed. Edited by Elmar
Seebold. Berlin: de Gruyter, 1999.
LENTANO, Mario.
I Germani e l’ordalia
del Rheno, un mito etnografico. Invigilata Lucernis, v. 28, p. 109–131,
2006.
LSJ –
Liddell-Scott-Jones. Greek-English Lexicon. Edited by Maria
Pantelia. Irvine, CA: University of California, Thesaurus Linguae Graecae,
2011. Disponível em: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1. Acesso em: 18 jul. 2020.
MAURER, Konrad.
Ueber die Wasserweihe des germanischen Heidenthumes. Bayerische
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse: Abhandlungen,
15,8, Abt. 3. Munich: Verlag der Akademie, 1881.
NUTTON, Vivian.
Galen of Pergamum. In: Brill’s New Pauly. Antiquity volumes edited by
Hubert Cancik and Helmuth Schneider; Classical Tradition volumes edited by
Manfred Landfester. Leiden: Brill, 2006. DOI: 10.1163/1574-9347_bnp_e417950.
PERKOW, Ursula.
Wasserweihe, Taufe und Patenschaft bei den Nordgermanen. Phil. Diss.
University of Hamburg, 1972.
SEE, Klaus von.
Disticha Catonis und Hávamál. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache,
v. 94, p. 1–18, 1972.
SEE, Klaus von; LA
FARGE, Beatrice; SCHULZ, Katja (org.). Kommentar zu den
Liedern der Edda: Band 1/I+II: Götterlieder. Heidelberg: Winter, 2019.
SIMEK, Rudolf.
Die Wasserweihe der heidnischen Germanen. Diplomarbeit – Universität
Wien, 1979.
VRIES, Jan de.
Altgermanische Religionsgeschichte. 2 vols. 3. ed. Grundriss der
germanischen Philologie, 12. Berlin: de Gruyter, 1970.
VRIES, Jan de.
Altnordische Literaturgeschichte. Band I: Vorbemerkungen – Die heidnische
Zeit – Die Zeit nach der Bekehrung bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts.
2. rev. ed. Berlin: de Gruyter, 1964.
WALTHER, Sabine
Heidi. Sources in Greek. In: MCKINNELL, John (ed.). The
Pre-Christian Religions of the North. Written Sources. Turnhout: Brepols,
no prelo.
WALTHER, Sabine Heidi
et al. (eds.). Res, Artes et Religio: Essays in
Honour of Rudolf Simek. Literature and Culture 1. Leeds: Kismet Press,
2021. Disponível em: http://kismet.press/portfolio/res-artes-et-religio.
Acesso em: 18 jul.
2020.
WÖHRLE, Georg. Aristote, Politique
VII, 17, 1336a 12 sqq. une coutume barbare. Revue des Études Grecques,
v. 104, p. 564–567, 1991. DOI: 10.3406/reg.1991.2525.
[1] Em
termos simples, a epistemologia não se pergunta o que sabemos sobre o mundo
(isso é o trabalho da ciência ou do conhecimento comum), mas sim como
sabemos o que sabemos
[2] Para entender mais sobre isso, vale a
leitura de Saxon Identities, AD 150-900 de Robert Filerman
[3] Topos literário é um motivo, tema ou fórmula que se repete com frequência em obras literárias, retóricas ou artísticas ao longo do tempo
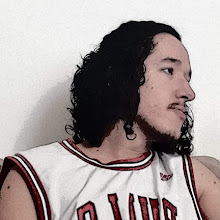

Comentários
Postar um comentário